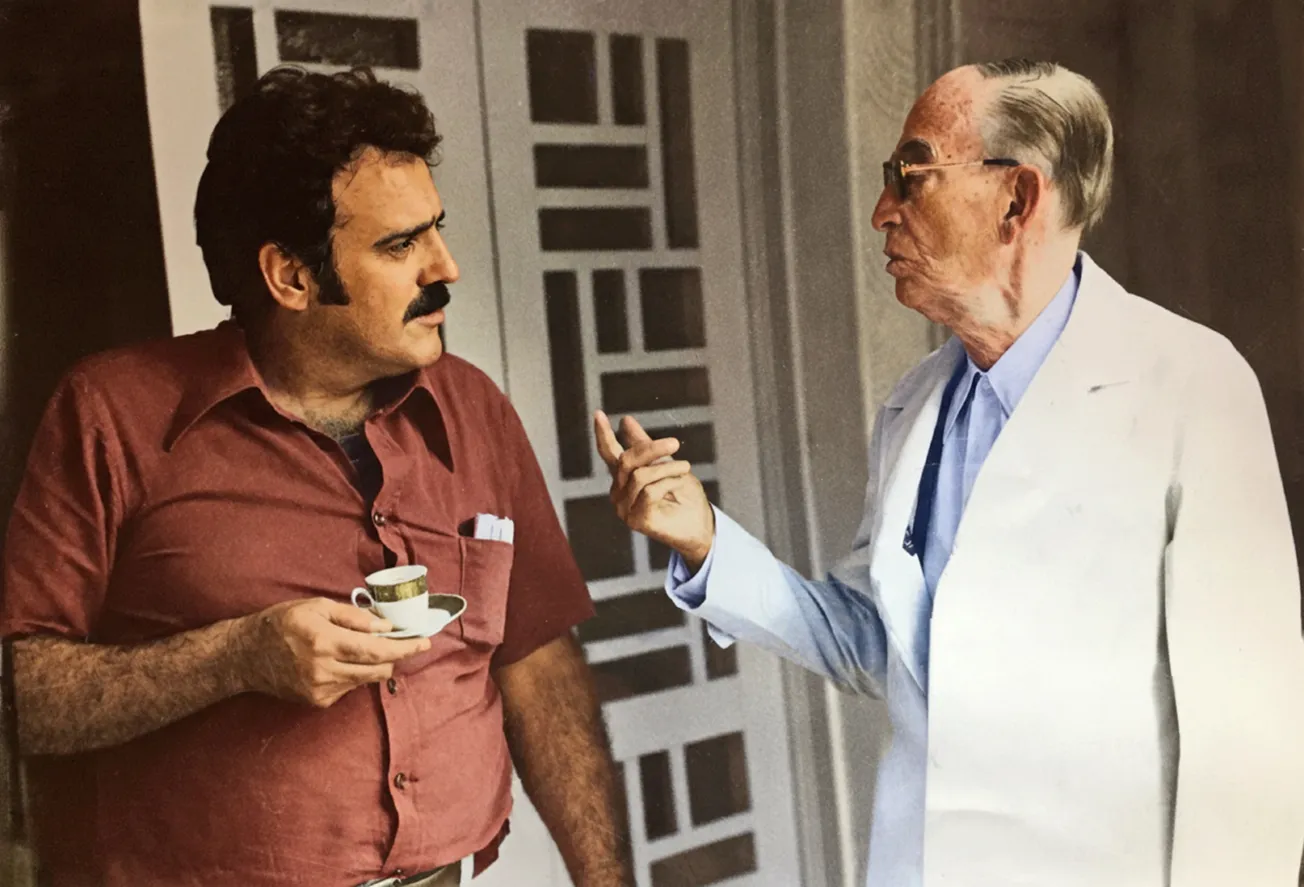Sumário
O Brasil acordou, mais uma vez, ensanguentado. No Rio de Janeiro — essa cidade que já foi o espelho da beleza e da civilidade nacional — o Estado decidiu travar guerra contra os seus próprios filhos. 121 mortos. Repetindo: cento e vinte e um brasileiros, criminosos ou cidadãos, caídos num mesmo dia, em nome de uma operação dita “bem-sucedida”. O governador Cláudio Castro, em sua voz de mando, disse: “De vítimas, só tivemos os policiais.” E, ao dizer isso, selou a frase que entrará para a História como a mais infame do poder público contemporâneo: como se a morte dos pobres não fosse morte; como se a dor nas favelas fosse apenas o eco natural da guerra; como se o Estado tivesse o direito de matar sem responder.
O que se viu na Penha, no Alemão, zona norte do Rio, não foi uma operação — foi um massacre. Foi o Estado descendo o morro como quem invade uma pátria estrangeira. Foi o Brasil atirando contra o Brasil. A Polícia Militar, empunhando fuzis, helicópteros e drones, buscava a cúpula do Comando Vermelho, mas encontrou, como sempre, os mesmos de sempre: os descalços, os acuados, os que vivem sob a mira dupla da arma do tráfico e da arma do governo. Foram tantas mortes que os próprios moradores precisaram recolher os corpos — corpos nus, mutilados, profanados pela pressa de apagar evidências. Um povo desenterrando o próprio povo. Nenhuma pátria suporta esse espelho.


Menina enlutada se inclina sobre um corpo, um dia após uma operação policial mortal contra o tráfico de drogas na favela de Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro. (REUTERS/Ricardo Moraes)
Dos Delitos e das Penas
É lógico que entre os mortos havia também os criminosos, talvez a maioria (é o que querem nos fazer crer) — homens que empunharam o fuzil não por acaso, mas por escolha, ainda que essa escolha tenha sido forjada nas sombras da miséria e da violência. Nenhum povo é ingênuo a ponto de negar o mal. Mas todo mal tem raiz: parte dele vem do espírito humano que ainda não despertou para o bem, incapaz de resistir ao instinto, à cobiça, ao impulso de dominar; e parte vem do próprio Estado, que abandonou seus rebentos ao terreno fértil do crime, onde a lei do fuzil substitui a lei da República.
O criminoso, muitas vezes, é produto da somatória trágica da alma fraca com o poder público ausente. A sociedade, portanto, é coautora silenciosa de sua própria dor.
Estas afirmações não são meus meros palpites, são definições filosóficas consagradas, testadas em campo exaustivamente, por séculos a fio: Espinosa viu no mal o fruto primeiro da ignorância; Hannah Arendt enxergou nele o silêncio do pensamento; e Beccaria, antes de todos, advertiu que “o poder de punir não é o direito de destruir”. Juntas, as visões desses três pensadores hercúleos revelam a tragédia de um país que nem educa, nem reflete, nem previne — e, por isso, repete o mesmo erro com armas mais novas.
Há quem chame isso de “guerra ao crime”.
Mas guerra ao crime não se faz com metralhadora, e sim com justiça, com escola, com Estado presente. Guerra ao crime é garantir infância, é retirar o adolescente do comércio da morte, é impedir que o fuzil seja o último brinquedo. Guerra ao crime é a coragem de olhar o morro como extensão da cidade, e não como o quintal onde se despeja o lixo social de uma República fraturada. O que o Rio viveu não foi combate, foi abandono armado — a falência de uma estrutura que há décadas governa pela omissão e reprime pela culpa.
Não há sociedade que sobreviva com dois Estados paralelos.
De um lado, o Estado oficial — com palácios, gabinetes, discursos, helicópteros.
Do outro, o Estado invisível — o do medo, da coerção, da lei do fuzil e da sentença sumária. Entre ambos, vive o povo, esmagado pela ausência de um e pela tirania do outro. O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital não nasceram do nada: cresceram à sombra de governos que preferiram negociar em vez de enfrentar, que permitiram que as prisões se tornassem escritórios do crime, e que trocaram política pública por espetáculo policial.
Cada governo, de cada tempo, tem sua parcela nessa catástrofe. Mas o de hoje, o de Cláudio Castro, carrega a assinatura final — a da banalização da morte.
Os números são obscenos
O Brasil tem mais de 80 facções ativas, dezenas de milhares de armas ilegais circulando, e prisões que mais parecem feudos medievais. A inteligência policial é mínima; o investimento em tecnologia, quase nulo; a transparência, inexistente. A bala é o único método de governo que o poder conhece. E enquanto isso, o morro vai sendo tomado por escolas do tráfico, que ensinam mais rápido que o Estado educa. Quando o governo chega, chega tarde — e chega atirando. E quando vai embora, o crime volta a vestir farda, a distribuir cesta, a julgar quem vive e quem morre.
Em Medellín, um dia, também foi assim
As colinas ardiam. O narcotráfico tinha exército. A polícia, medo. Até que um prefeito, Sérgio Fajardo, decidiu inverter a lógica: em vez de blindados, levou bibliotecas; em vez de fuzis, construiu teleféricos; em vez de tratar o pobre como suspeito, tratou-o como cidadão. E venceu. Não em um dia, mas em uma geração.
O que falta ao Rio não é munição — é imaginação moral.
É fé no homem.
É liderança ética.
Mas há algo mais profundo, que só se percebe quando se olha de dentro: o Brasil perdeu o sentido da vida pública. Quando a autoridade celebra uma operação com 121 mortos e chama isso de sucesso, não há adjetivo que baste. Esse é o ponto final do humanismo, o sepultamento da Constituição, o triunfo da barbárie travestida de lei. E o mais grave é o silêncio — o silêncio cúmplice de quem governa, o silêncio omisso de quem deveria fiscalizar, o silêncio cansado de quem já perdeu a esperança. É o silêncio que mata mais que o tiro.
Governador Castro, o senhor é o responsável direto
Não por empunhar a arma, mas por autorizar a lógica que transforma a vida em número, a operação em vitrine, a dor em marketing. O senhor governa um Estado à beira do colapso, e em vez de restaurar a cidadania, patrocina o pânico. Em vez de socorrer, comemora. Em vez de reformar, reprime. Mas a História é implacável: ela cobra dos vivos o preço da indiferença. E quando a justiça tarda, a memória faz o resto.

Para que ninguém alegue surpresa
Desde a redemocratização, cinco ex-governadores do Rio — Moreira Franco, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão — já foram presos; e o ex-governador e ex-juiz Wilson Witzel só não foi preso por ser letrado nos Códigos, mas caiu por impeachment. Isso não é acaso: é método, é cultura política que empurra o Estado para o abismo e permite que a barbárie governe onde a República deveria estar.
Aos que ainda acreditam no Rio
Aos que ainda acreditam no Rio — e eu acredito — é hora de um novo pacto civilizatório. Um pacto que comece pelo reconhecimento de que a vida é o primeiro direito; que a favela é território brasileiro; que o morador pobre é cidadão, não alvo.
É preciso refundar o Estado do Rio de Janeiro — com polícia comunitária, transparência absoluta, presença social permanente, urbanismo redentor. É preciso que o Brasil trate suas feridas abertas com política, com educação, com amor ao próximo, e não com chumbo.
O Rio só será salvo quando o Estado descer o morro de mãos abertas. Quando as mães não precisarem esconder os filhos do helicóptero. Quando o jovem negro puder andar sem ser suspeito. Quando o governo entender que matar o pobre não é proteger a sociedade — é matá-la junto.
E que nenhum governador terá sucesso enquanto houver cadáveres amontoados na praça, cobertos por lençóis improvisados. Um país que se acostuma com a morte arranca de si mesmo o direito de sonhar. Mas ainda é tempo de sonhar — e de lutar. Que este massacre seja a última página de uma era de vergonha. E que dela surja o novo pacto da vida, da paz e da coragem de mudar.