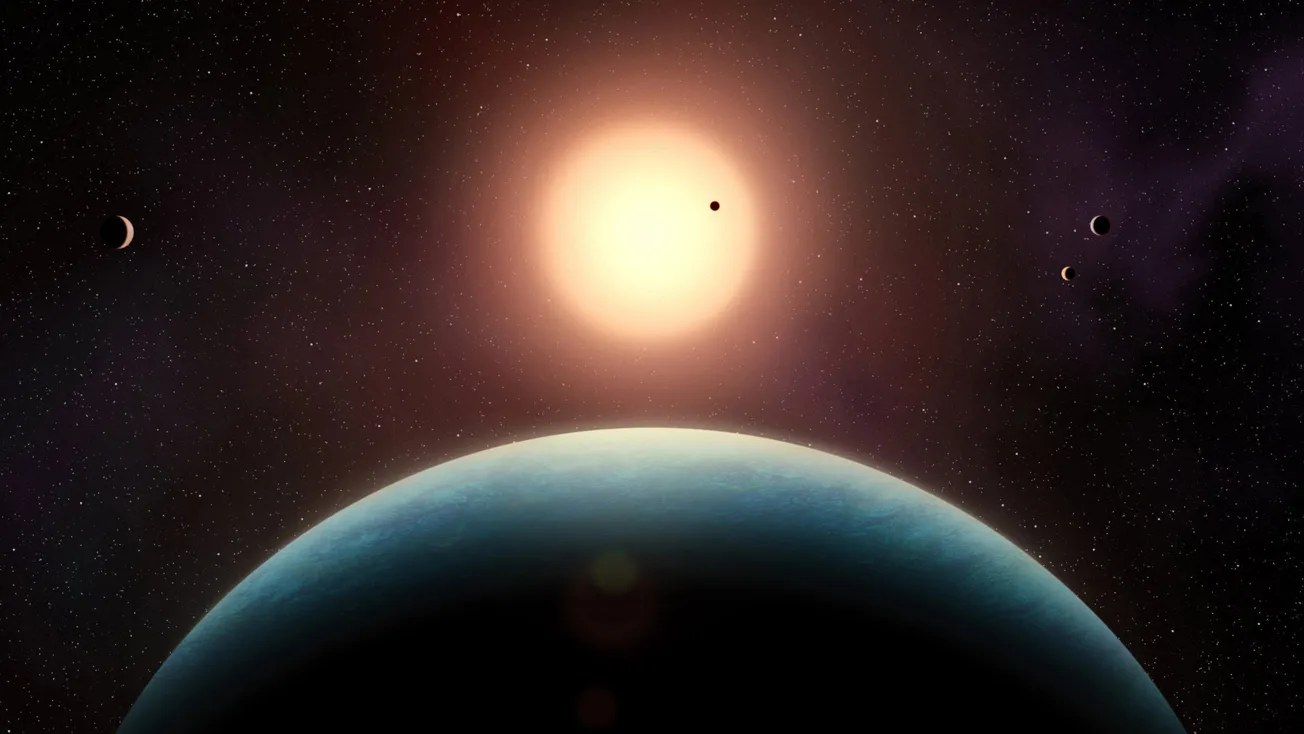Há algum tempo venho fazendo um experimento: quando estou lecionando sobre vendas, peço para que levantem a mão aqueles que sonham ou sempre sonharam em trabalhar com vendas. Essa pergunta havia nascido de uma autêntica curiosidade. Eu mesmo não sonhava em fazer isso na vida adulta – e, de repente, eis-me aqui, até escrevendo sobre isso.
Confesso, no entanto, que talvez não estivesse preparado para testemunhar absolutamente nenhum dos presentes se manifestar. Será que não tinham me ouvido? Será que a pergunta não tinha sido clara?
Depois que consegui, a duras penas, superar o peso da autocrítica – o palestrante e o vendedor têm em comum a inescapável necessidade de lidar com a rejeição –, refleti sobre a realidade que a audiência me impôs: vender é uma profissão que, convenhamos, não goza de grandes admirações. Quem, quando pequeno, diz aos pais e mestres: “quero ser vendedor!”? Não há bonecas, heróis, brinquedos ou histórias em quadrinhos sobre a temática.
Aliás, histórias até existem, mas não necessariamente lançam boa luz sobre a profissão.
Na história de João e o pé de feijão, o pobre menino foi induzido a fazer um péssimo negócio, vendendo a única propriedade da família – sua estimada vaquinha (imagino-a sentada, de braços cruzados, incrédula, mas obviamente incapaz de vocalizar seu protesto) – por alguns feijões supostamente mágicos. Calhou que esses feijões em especial eram, de fato, mágicos, mas quantas vezes isso de fato acontece?
Em outras formas de arte, não raro encontramos o arquétipo do vendedor ambulante, notoriamente extravagante, de fala suave e lábia afiada. Dramaturgicamente, ele aparece como uma figura externa à comunidade, que frequentemente é introduzida como catalisador de conflito – sua chegada desestabiliza a ordem local, oferecendo soluções fáceis para problemas complexos. O vendedor chega, performa, seduz, engana e vai para a próxima cidade.
Na ópera “O Elixir do Amor” (1832), Doutor Dulcamara vende o referido Elixir como sendo eficaz para finalidades diversas como, dentre outras coisas, rejuvenescimento facial, remoção de rugas, conquista amorosa, cura de tuberculose e diabetes, veneno de percevejos e fertilidade masculina. O produto em si é apenas uma espécie de bebida de alto teor alcóolico.
A recorrência do tema nas artes não surgiu da mera licença poética. Por exemplo, no velho-oeste americano, esse perfil deu origem a uma rica expressão (que, confesso, uso com alguma frequência): vendedor de óleo de serpente.
Introduzido por trabalhadores chineses que foram para aquele país para trabalhar na construção de ferrovias, o tal óleo de serpente – o genuíno, extraído de cobras aquáticas – continha ômega-3 e tinha efeitos anti-inflamatórios. Mas a promessa de cura para tudo (uma espécie de Emplastro Braz Cubas da América do Norte) atraiu uma leva de charlatões que, não surpreendentemente, viajava de cidade em cidade com discursos performáticos, cúmplices bem preparados e garrafinhas adulteradas; juntos, eles vendiam esperança líquida misturada com cânfora, capsaicina, álcool e até cocaína.
O mais célebre desses vendedores foi Clark Stanley, o autoproclamado "Rei da Cascavel", cuja fraude foi desmascarada em 1916. Seu elixir não tinha nenhum vestígio de óleo de cobra. A farsa foi tão ampla que levou à criação da primeira lei de proteção ao consumidor nos EUA, exigindo rótulos claros e se propondo a banir promessas enganosas.
Mesmo com a queda de Stanley, o arquétipo sobrevive: a expressão "óleo de serpente" virou sinônimo de soluções milagrosas e discursos vazios, e o "vendedor de óleo de serpente" ainda perambula entre nós – muitos dos quais trocando a caravana e o balcão de madeira pelo feed patrocinado.
É compreensível, então, que poucos queiram se associar a esse imaginário. Mesmo nas artes, poucas são as vezes em que os vendedores se convertem em anti-heróis. Ninguém, afinal, quer ser confundido com o arauto das promessas vãs, com o embusteiro de frases feitas, ou com alguém cuja palavra vale menos que o brilho da embalagem.
Talvez esteja mais que na hora de revisitarmos o papel do vendedor. O vendedor deve servir de ponte entre necessidade e solução; vender requer entender, escutar, e, só então, propor. É, no fundo, um exercício de empatia. É uma conexão entre pessoas – daí o título e pano de fundo do livro de Daniel Pink, “Vender é humano”.
Apesar de diariamente me deparar com tantos vendedores de óleo de serpente – como peixes, as redes estão cheias deles –, ocasionalmente encontro alguém com talento nato para vendas. A mais recente dessas experiências foi em um restaurante.
Mas, antes de prosseguir, permita-me, caro leitor, uma rápida digressão: vendas, como tantas outras habilidades que importam, não dependem de um dom prévio. Mas isso já é assunto para outra crônica em momento oportuno.
Voltando ao restaurante: após pagar a conta, elogiei o garçom por seu atendimento genuinamente atencioso e gentil. Ele sorriu com certo constrangimento, como quem não está acostumado a receber reconhecimento. Perguntei, então, se já havia pensado em trabalhar com vendas. “Já...”, respondeu, meio hesitante, “mas nunca tive oportunidade”.
Disse também que, para ser sincero, não sabia vender. Que de fato se sentia meio desvalorizado como garçom, mas pensava que aquele tipo de trabalho talvez não fosse para ele.
Perguntei se ele gostava de pessoas. A resposta veio com um sorriso largo, imediato: “Gosto demais. Gosto de conversar, de ouvir, de entender o que a pessoa precisa”. Então, disse-lhe com convicção que ele já tinha o mais importante; que todo vendedor precisa, antes de qualquer coisa, gostar de gente.
Em silêncio, ele pareceu contemplar com surpresa o que eu dissera. É como se a janela metafórica que ele lentamente visse abrir à sua frente – a de que ele pudesse, de fato, ser um bom vendedor e desenvolver outra carreira – tivesse sido súbita e simultaneamente atravessada por um tijolo, de modo que doravante não houvesse opção senão deixar entrar o que estiver do outro lado.
Em mais um rápido instante, recompôs-se, agradeceu com firmeza e me apertou a mão.
Deve ter saído mesmo pensativo, visto que, vinte segundos depois, tropeçou em um batente da porta que cruzava centenas de vezes ao dia; como se a conversa tivesse desajustado, por um instante, sua noção de espaço. Ele novamente se recompôs, dessa vez de corpo inteiro, como em um filme em preto e branco, e seguiu em frente com dignidade.
Todos nós, afinal, estamos constantemente vendendo. Vendemos produtos, sim, mas também ideias. A persuasão é, em si, uma venda. Sabendo disso, que possamos cada vez menos vender óleo de serpente, e, cada vez mais, vender aquilo de que o outro realmente precisa. Que nossas ofertas nasçam da escuta, não da lábia; da empatia, não do roteiro.
Esse texto, aliás, também é uma venda. Se fiz bem meu trabalho aqui, talvez mais pessoas ousem levantar a mão com orgulho quando eu fizer aquela já velha pergunta: “quem aqui sonha em ser vendedor?”.