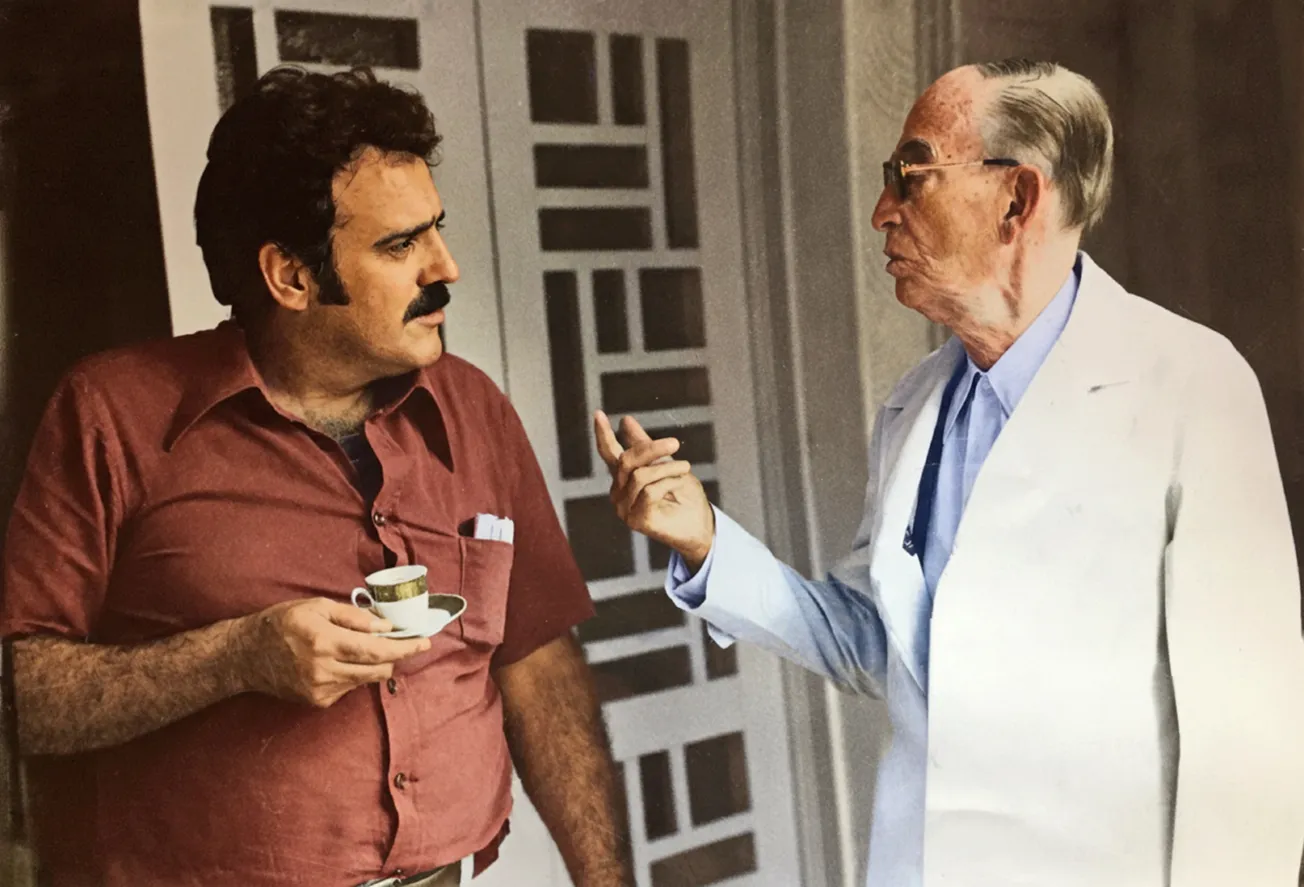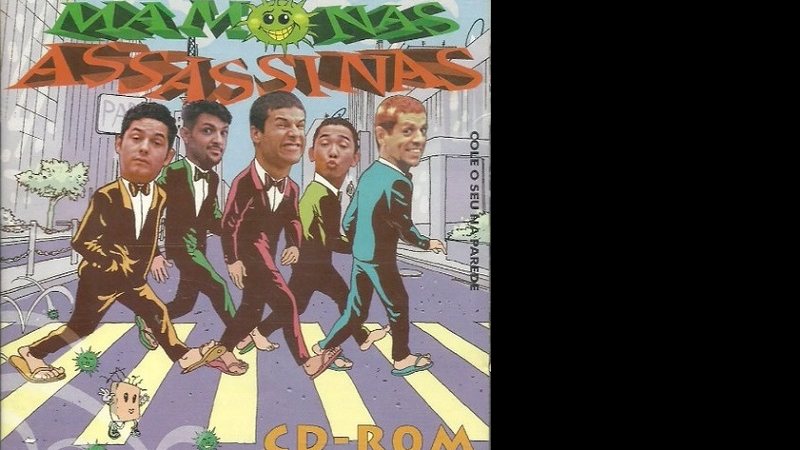Na madrugada deste sábado, 3 de janeiro de 2026, o planeta acordou com uma frase que parece saída de um pesadelo histórico: o presidente dos Estados Unidos afirmou que forças americanas realizaram um ataque de grande escala na Venezuela e capturaram Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, levando-os para fora do país.
Relatos de explosões em Caracas, fumaça próxima a instalações militares e apagões circularam rapidamente, acompanhados por vídeos de aeronaves em baixa altitude e pânico urbano. A Venezuela declarou estado de emergência, convocou mobilização e denunciou o que chamou de agressão e ataque imperial. A vice-presidência venezuelana, segundo a imprensa internacional, reconheceu o desaparecimento do casal e exigiu prova de vida.
O fato bruto, porém, não é apenas o estrondo no asfalto de Caracas. É o estrondo no alicerce do mundo.
Porque, se a versão apresentada pela Casa Branca se confirmar em seus termos essenciais — ataque no território de outro Estado, captura do chefe do Executivo nacional e remoção forçada para outro país — estamos diante de um acontecimento que ultrapassa a geopolítica e invade o campo mais sensível da humanidade: o pacto civilizatório que tenta conter a barbárie por meio de regras.
O Direito Internacional, com todas as suas imperfeições, nasce do cansaço das ruínas. Seu coração é simples: a força não pode ser a gramática ordinária entre nações. A Carta das Nações Unidas estabelece, como regra, a proibição do uso da força contra a integridade territorial e a independência política dos Estados — com exceções estreitas, debatidas e, em tese, controladas: autodefesa e autorização do Conselho de Segurança. Quando um país se arroga o direito de atravessar fronteiras com bombas e helicópteros, substituindo tribunais por operações, abre-se um precedente que não pede permissão para ficar restrito ao “inimigo da vez”.
E é aqui que o humanismo precisa falar com clareza, sem idolatrias partidárias e sem romantizações ideológicas.
Há quem responda: “Mas Maduro é acusado disso e daquilo; há denúncias de autoritarismo; há crimes; há uma tragédia social.” Sim: o debate sobre a Venezuela é antigo e doloroso. A própria imprensa registra que Maduro foi indiciado nos Estados Unidos em 2020, em acusações associadas a narcotráfico e terrorismo. Nada disso, contudo, resolve o dilema principal. A civilização não se mede apenas pelos culpados que pune; mede-se, sobretudo, pelos limites que impõe ao modo de punir.
O que está em jogo, portanto, não é a figura de Maduro como indivíduo: é a ideia de soberania, com tudo o que ela carrega de frágil e necessário. E é também a noção de que acusações, por mais graves, não autorizam automaticamente que um Estado se converta em polícia do planeta, escolhendo o foro, o método, o tempo e o espetáculo.
Há ainda outro ponto que não pode ser varrido para debaixo do tapete: a legalidade interna do próprio agressor. Parlamentares americanos já questionaram publicamente a base legal do ataque, indicando que não houve autorização do Congresso para uma ação militar dessa magnitude. Quando a força externa se soma à fragilidade do rito interno, a política internacional ganha o pior dos perfumes: o da decisão tomada a portas fechadas, sustentada por comunicados e pela vertigem do fato consumado.
E aqui se revela o que mais ameaça o século XXI: a substituição do Direito pela “narrativa operacional”. O mundo contemporâneo, cansado de diplomacias lentas, passou a tolerar que a ação anteceda a justificativa. Primeiro o ataque; depois a nota. Primeiro a captura; depois o enquadramento. Primeiro o choque; depois o argumento. É um caminho que seduz porque parece eficiente — e mata porque é contagioso.
Se uma potência pode atacar uma capital e retirar um chefe de Estado para “responder” em outro território, o que impede que outras potências copiem o gesto amanhã, contra outros governos, por outros motivos, com outras listas de inimigos? A pergunta não é retórica: ela é o núcleo do risco.
As reações internacionais iniciais, com condenações e pedidos de reunião de emergência, mostram que o mundo compreende a gravidade do precedente. E mesmo dentro dos Estados Unidos, a ausência de posicionamento detalhado e a concentração da narrativa no anúncio presidencial alimentam a zona cinzenta: o mundo foi informado, mas não foi esclarecido.
O jornalismo responsável, nestas horas, deve insistir no básico: fatos verificáveis, prudência com boatos, recusa ao delírio e, ao mesmo tempo, consciência moral. Porque também há um perigo simétrico: o de transformar qualquer crítica ao ataque em absolvição automática do regime atacado. Isso seria uma preguiça intelectual. O humanismo não é torcida; é balança. Ele condena o autoritarismo onde quer que esteja, e condena, com igual vigor, a guerra como atalho para a justiça.
Se o Direito Internacional é um edifício, ele não desaba apenas quando um tijolo cai. Ele desaba quando as nações passam a achar normal chutar as paredes. E quando o mundo naturaliza que “o forte pode” e que “o fraco obedece”, volta-se ao ponto anterior à lei: o estado de natureza crua, onde o medo governa e a violência legisla.
O que se deve pedir agora é simples e difícil: transparência plena sobre o ocorrido, apuração independente sobre alvos e impactos, proteção a civis, e acionamento imediato das instâncias multilaterais capazes de conter qualquer escalada. A paz não é um ideal etéreo; é uma tecnologia política — e, como toda tecnologia, exige manutenção diária. Se for abandonada, enferruja. E quando enferruja, quebra na mão de inocentes.
Caracas, hoje, é mais do que uma cidade sob tensão. É um espelho de um modelo civilizatório global em franca ruína nos últimos 15 anos. Nele, o mundo, se quiser, pode facilmente enxergar se ainda acredita que a lei vale para todos — ou se aceitou que a lei é apenas outra arma nas mãos de quem já tem todas as outras.